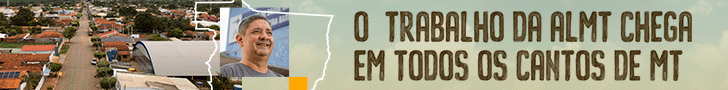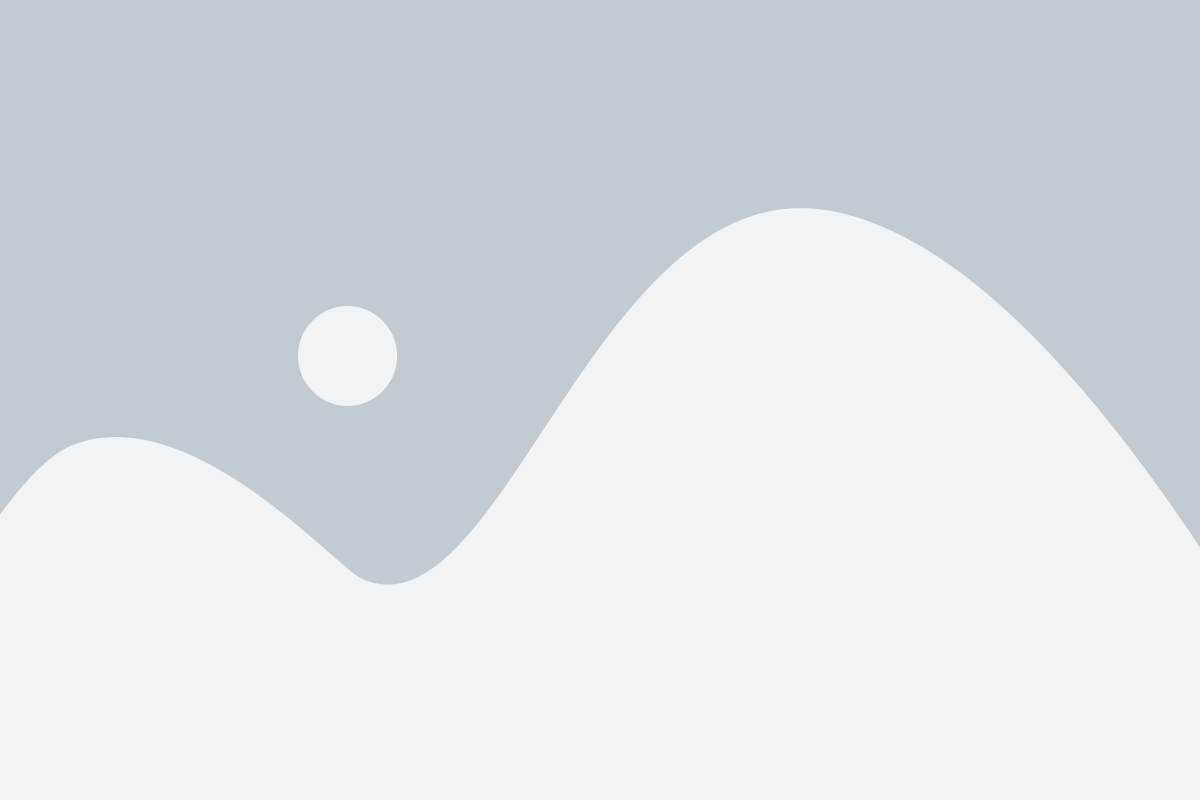Por Nazareth, Alexandre da Silva1
RESUMO
O acúmulo de detritos espaciais nas órbitas terrestres representa um dos maiores desafios contemporâneos à continuidade segura das atividades espaciais. O lançamento descontrolado de satélites, a fragmentação de engenhos inoperantes e a destruição deliberada de objetos em órbita têm contribuído para a formação de um cinturão de lixo orbital que coloca em risco missões futuras e compromete o ambiente extra-atmosférico. Este artigo examina, com base em dados recentes e em uma abordagem jurídico-normativa, os principais tratados de Direito Espacial, analisando suas lacunas quanto à prevenção, identificação e responsabilização internacional dos Estados pelo manejo inadequado de objetos espaciais. Defende-se a necessidade urgente de revisão dos instrumentos internacionais vigentes e a criação de mecanismos efetivos de governança global, inclusive com a instituição de um tribunal internacional especializado, como condição essencial para a sustentabilidade da atividade espacial e para a preservação do espaço como patrimônio comum da humanidade.
Palavras-chave: lixo espacial; responsabilidade internacional; direito espacial; tratados internacionais; governança global.
- Introdução
A expansão das atividades espaciais nas últimas décadas, embora tenha proporcionado avanços inestimáveis à humanidade, como o desenvolvimento de tecnologias de comunicação, meteorologia, geolocalização e pesquisa científica, trouxe consigo desafios igualmente monumentais. Um dos mais prementes é a crescente acumulação de detritos nas órbitas terrestres – o chamado lixo espacial –, que ameaça não apenas a segurança das operações extraterrenas, mas também o futuro da própria presença humana fora da Terra.
Desde o lançamento do Sputnik 1, em 1957, a humanidade deu início a um processo contínuo de ocupação orbital que não foi acompanhado por práticas sustentáveis de descarte. Satélites inoperantes, partes de foguetes, fragmentos resultantes de colisões e destruições intencionais passaram a compor um perigoso cinturão de detritos que circunda o planeta, com potencial para desencadear a chamada Síndrome de Kessler, um efeito dominó de colisões espaciais.
Nesse cenário, ganha relevo o debate jurídico sobre a responsabilidade internacional dos Estados pelo manejo inadequado de seus engenhos espaciais, bem como a urgência de atualização dos tratados internacionais que regem a matéria. Este trabalho busca examinar, à luz do Direito Espacial contemporâneo, a magnitude do problema, a eficácia dos tratados existentes e a necessidade de governança global sobre o tema.
- A Gravidade do Problema: Detritos Espaciais e o Risco de Colapso Orbital
De acordo com dados atualizados em 20 de setembro de 2024 pela Agência Espacial Europeia (ESA), desde o início da Era Espacial – marcada pelo lançamento do primeiro satélite artificial denominado de Sputnik 1, em 1957, de propriedade da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – já foram lançados cerca de 6.740 (seis mil setecentos e quarenta) foguetes, os quais, dentre outras missões, colocaram em órbita da Terra a quantia aproximada de 19.590 (dezenove mil quinhentos e
noventa) satélites artificiais; segundo consta, meio a estes, apenas 10.200 (dez mil e duzentos) estão em funcionamento.2
Consectário lógico, a diferença entre arremessados e em atividade, qual seja
9.390 (nove mil trezentos e noventa), reporta-se a engenhos inoperantes, ainda vagando a esmo ao redor do nosso planeta, a uma velocidade média de 28 mil km/h; bem como, a empreendimentos que trafegavam em órbita baixa, os quais, graças ao fenômeno conhecido por arrasto atmosférico, produzido pela movimentação dos gases, foram naturalmente desacelerados e, devido ao atrito com o ar, desintegrados na reentrada.
Segundo a ESA, os objetos espaciais são fabricados, tradicionalmente, com tanques pressurizados, carregados com quantitativo extra de combustível, a fim de garantirem maior margem de sucesso nos lançamentos caso os motores demandem mais propelente que o planejado; e, especialmente em relação aos satélites artificiais, buscam assegurar que, diante de alguma adversidade, seja possível manobrá-los de uma órbita para outra.3
Ocorre que, ao se tornarem inoperantes e serem descartados em órbita, os artefatos espaciais ainda carregam consigo certa quantia daquele propelente extra. Fato outro, a acelerada depreciação, provocada pelo ambiente hostil do espaço extra- atmosférico, faz romper arranjos internos de seus propulsores, dispersando combustível por componentes outros. Assim, pois, quando a liberação abrupta de pressão, decorrente do vazamento dos agentes oxidantes, não enseja a explosão dos engenhos de per si, torna-os uma bomba itinerante, descontrolada e de altíssima velocidade que, chocando-se com qualquer objeto diferente, ainda que de proporções milimétricas, não só provoca uma detonação de larga escala, como expele fragmentos de diferentes tamanhos pelo cosmo.4
Por essa e outras razões, o relatório anual da ESA, de 2024, estima que já ocorreram mais de 650 (seiscentos e cinquenta) sinistros, dentre rompimentos, explosões, colisões e eventos anômalos, envolvendo objetos espaciais nas diversas órbitas terrestres5. Entrementes, tais desastres – somados ao descarte inadequado de engenhos inoperantes ao acaso na própria trajetória, o deslocamento de outros para a famigerada “órbita cemitério, também chamada de refugo ou de descarte”, bem como a destruição intencional e irresponsável de empreendimentos, com o emprego de mísseis, pelos próprios Estados Lançadores – têm elevado o número de detritos a proporções inimagináveis.
Desta feita, assevera a ESA, no relatório estatístico sobredito, que apesar de nem todos os objetos espaciais serem rastreados e catalogados, pode-se mensurar que já existam 40.500 (quarenta mil e quinhentos) detritos maiores que 10 cm;
1.100.000 (um milhão e cem mil) de fragmentos entre 1 cm e 10 cm; e, 130 milhões de estilhaços entre 1 mm e 1 cm. Consta inclusive que o monturo já supera 13.000 (treze mil) toneladas6.
Nesse passo, não poderíamos deixar de rememorar o desserviço prestado por alguns Estados à política de mitigação de detritos espaciais, pois o comportamento imprudente, para não dizer leviano, de lançar mísseis para destruir satélites inoperantes, é uma das reprováveis causas de aumento exponencial de fragmentos na órbita terrestre. À guisa de ilustração, listamos:
a) no dia 11/01/2007, a China lançou míssil para destruir intencionalmente o seu satélite meteorológico Fengyun-1C, gerando mais de 900 (novecentos) estilhaços rastreáveis7;
b) no dia 27/03/2019, as forças armadas da Índia testaram “com sucesso” míssil especializado para abater objetos na órbita da Terra8;
c) no dia 15/11/2021, a Rússia disparou míssil para destruir propositadamente o seu satélite Cosmos-1408, produzindo mais de 1.500 (mil e quinhentos) pedaços de destroços rastreáveis.9
Especialistas receiam que, a qualquer momento, às órbitas terrestres sejam palco de um evento catastrófico denominado de Síndrome de Kessler. A teoria idealizada, na década de 1970, pelo consultor Donald J. Kessler, da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), já pressagiava que os detritos espaciais seriam tantos que começariam a se chocar uns com os outros em efeito cascata, aumentando o número de fragmentos a níveis tais que o ambiente cósmico se tornaria impenetrável10.
Todavia, toda desgraça para incautos ainda é pouca. As orbitas selenitas e marcianas, nossos próximos alvos, já receberam os seus primeiros satélites artificiais. Além disso, autoridades vêm nos alertando acerca da existência de toneladas de lixo já produzido por terráqueos em ambos os corpos celestes, desde sondas espaciais, rovers, escudos de calor e paraquedas abandonados no planeta Marte – de um lado; até latas, cabos, ferramentas e sacos de dejetos humanos descartados na Lua – de outro.
O jurista e professor José Monserrat Filho, precursor das pesquisas em Direito Espacial no Brasil, há muito exortava, “sejamos melhores no espaço do que fomos na Terra”. Roguemos para que suas palavras sejam auscultadas.
Antes de outro juízo, é imperioso que aceitemos o fato de que as órbitas terrestres, selenitas e marcianas, dentre outras, são recursos limitados como a água
e o oxigênio do ar. Desse modo, a poluição espacial desenfreada poderá inviabilizar o nosso contemporâneo estilo de vida e, pior que isso, atrasar o calendário previsto para que nos tornemos seres interplanetários, colocando em risco de extinção a nossa espécie, dentre outras muitas.
Se, de um lado, os satélites são empregados em diferentes áreas, incluindo ciência espacial, mapeamento do solo, meteorologia, pesquisas climáticas, telecomunicações, navegação e exploração de recursos minerais11, sem os quais, certamente, nosso mundano modo de viver restaria enredado; do outro, a diminuição dos detritos a níveis aceitáveis é condição necessária para a segurança das missões extra-atmosféricas, das quais dependem a perpetuação de nossa espécie.
3.Enquadramento Jurídico: Limites e Possibilidades dos Tratados de Direito Espacial
O que temos feito e o que podemos fazer para que o nosso desenvolvimento se dê de forma sustentável?
Embora se verifique que ainda não há instrumento internacional de alcance global que regulamente de forma específica o descarte de resíduos sólidos no espaço cósmico, isso não implica, necessariamente, que os Estados não poderão ser responsabilizados pelos danos causados a outrem (sujeitos de Direito Internacional), ou ao próprio ambiente (sujeitos de Direitos Difusos e Coletivos), pela destinação irregular dos engenhos inoperantes ou de seus fragmentos; pois, apesar de demandarem premente atualização, os principais tratados de Direito Espacial dispõem de mecanismos para fazê-lo, mesmo tratando da temática de forma genérica.
O primeiro passo nessa empreitada é esclarecer o alcance da definição de “objeto espacial”, cunhada no art. 1º, alínea “b”, da Convenção de Registro de 1975, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 5.806/2006. É verdade que se trata de acepção embrionária e pleonástica, mesmo assim, permite uma exegese ampliada, senão
vejamos: “O termo inclui as partes componentes de um objeto espacial, bem como seu veículo propulsor e respectivas partes”.
Extrai-se do preceptivo convencional, portanto, que objeto espacial não se restringe ao engenho ou empreendimento em sua completude, mas se estende a todas as suas partes e respectivos componentes ainda que isoladamente. Assim, pois, aduz o tratado que, estes ou aquelas, caso se desprendam do mecanismo principal, manterão essa qualidade, seja na superfície da Terra, em órbitas ou noutros corpos celestes. Não por outra razão, dessume-se que seus destroços e fragmentos também a conservarão.
Na sequência, diante da dificuldade de se identificar a pertença de fragmentos de objetos espaciais – o que, sem dúvida, compromete todo o processo internacional de responsabilização por danos causados pelo descarte irregular de lixo sideral, já que, no caso concreto, o dono do estilhaço raramente será desvelado – afigura-se crucial, ainda dentro do escopo da Convenção de Registro, a análise do texto plasmado em seu art. 4º, segundo o qual, cada Estado signatário, além de manter registro próprio de seus empreendimentos, deverá depositar na Organização das Nações Unidas (ONU) os dados individualizados de cada um deles, a saber: a) os nomes dos Estados Possuidor e Lançador; b) designação e número de registro do objeto; c) data e local de lançamento; e, d) parâmetros orbitais básicos, incluindo período nodal, inclinação, apogeu, perigeu e função do engenho.
Nessa esteira, considerando que as informações averbadas junto da ONU não são suficientemente capazes de descortinar o proprietário de parte, componente ou fragmento de objetos espaciais que porventura causem danos a outrem, infere-se que a Convenção de Registro deve ser atualizada para prever requisitos mais eficazes na identificação dos mecanismos produzidos pelos Estados, fins de se assegurar que estes sejam devidamente responsabilizados por suas ações ou omissões que causem prejuízo a terceiros.
Nesse cavalgar, é imprescindível que os metais, as tintas, e demais elementos empregados na fabricação dos empreendimentos cósmicos, especialmente das fuselagens, carreguem nas suas composições pigmentações que os tornem exclusivos, ao mesmo em tempo em que facilmente denunciem seus Estados
fabricantes. Igualmente, as peças que formam todo o mecanismo devem, cada qual, exibir números de séries que as individualize. Ademais, as partes maiores dos mecanismos devem ser devidamente identificadas com as rubricas dos Estados proprietário e lançador, além do nome do próprio mecanismo, bem como da missão espacial.
Dentro desse mote, as pigmentações de metais e tintas, os números de série das peças, as rubricas dos Estados envolvidos, objetos e missões espaciais, bem como eventuais transferências de propriedades, rigorosamente todos, devem ser insertos dentre os requisitos de registro entalhados da prefalada Convenção, de modo a facilitar a identificação e responsabilização do Estado demandado.
Ora, o art. 6º do Tratado do Espaço Sideral de 1967, promulgado pelo Brasil por meio do Decreto nº 64.362/1969, estabelece que os Estados-partes têm responsabilidade internacional pelas atividades nacionais realizadas no espaço cósmico, mesmo que praticadas por organismos governamentais ou entidades não governamentais. E vamos além, ainda que exercidas por indivíduos. Sem descurar do direito de regresso daqueles em face destes. Em qualquer caso, repise-se, a responsabilidade somente será aferida se possível a identificação do causador do dano.
Na mesma senda, a Convenção de Responsabilidade de 1972, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 71.981/73, em seus artigos 2º a 4º, cria um sistema binário de responsabilização do causador do dano, vale dizer, a uma, caso o objeto espacial do Estado demandado provoque dano à pessoa ou coisa do Estado demandante na superfície da Terra, ou em aeronave durante o voo, aplicar-se-á ao primeiro a responsabilidade objetiva; e, a duas, caso o evento ocorra no espaço sideral, impor- lhe-á a responsabilidade subjetiva.
De forma surpreende, ainda lá nos idos de 1972, a Convenção de Responsabilidade também previu um método alternativo de resolução de conflitos, frise-se, o que denominou de Comissão de Reclamações. Segundo disposto nos artigos 14 e ss., não havendo os Estados em litígio chegado em acordo e, portanto, não tendo ocorrido o adimplemento da indenização, qualquer das partes poderá dar ensejo a formação de uma comissão para solucionar a lide. Consta inclusive que tal
órgão convencional será, em regra, composto por três membros, sendo um nomeado pelo Estado-demandante, outro nomeado pelo Estado-demandado, e um terceiro imparcial, escolhido por ambos, que o presidirá.
Não se pode negar que a elaboração de tratados para regular a atividade espacial, ainda nas décadas de 1960 e 1970, tenha apresentado um objeto disruptivo ao Direito Internacional Público que – antes se ocupava de solucionar lides, entre nações, ocorridas na terra, no mar e no ar (atmosfera) – doravante passou a resolver conflitos sucedidos no ambiente extra-atmosférico, robustecendo o que naquele tempo se dizia novo ramo do Direito, o Espacial. Porém, não há dúvida alguma de que a matéria, esculpida no terceiro quartel do século passado, precisa de uma boa reforma.
Aliás, três dentre os tratados basilares do Direito Espacial, quais sejam, a Convenção de Responsabilidade de 1972, a Convenção de Registro de 1975, e o Acordo da Lua de 1979, previram que, passados dez anos após a entrada em vigor, eles seriam submetidos à agenda provisória da Assembleia-Geral da ONU para reexame e revisão.
Conquanto, atendendo interesses escusos de parcela da indústria espacial, mormente do setor privado – obcecado pela mineração da Lua, Marte e do cinturão de asteroides – desde os anos 80, nada se revisou, sob o argumento de que o direito é um obstáculo à exploração espacial. Por motivo assemelhado, não há regulação global específica de como se dará a extração de minerais no cosmos, muito menos regras hard law acerca da logística reversa do lixo espacial. Quiçá, o silêncio normativo internacional seja o escudo protetor da ambição inescrupulosa de empresários, e até de alguns Estados soberanos, ávidos por mais riquezas.
Se de um lado, não há regulamentação atualizada da exploração extra- atmosférica; do outro, causa certa estranheza a recomendação do Comitê para Uso Pacífico do Espaço Exterior (COPUOS) para que os Estados criem suas leis nacionais espaciais, quando ele próprio não tem demonstrado o esforço necessário para o reexame dos atos internacionais em debate. Estaria o COPUOS cedendo a pressões internacionais para não buscar a revisão dos tratados de Direito Espacial? Fica a dúvida.
De todo modo, no plano doméstico, a novíssima Lei Nacional Espacial nº 14.946/2024 – que entrou em vigor no dia 01/08/2024, para dispor acerca das atividades espaciais nacionais – destinou uma seção inteira para regrar a mitigação de detritos espaciais (vide artigos 35 e 26), merecendo nossos aplausos.
Então é isso. Temos uma catástrofe anunciada. O número exponencial de detritos espaciais, se não for mitigado, dará azo ao que no século passado já se denominava de Síndrome de Kessler, é dizer, colisões de objetos em efeito dominó que farão aumentar em demasia os destroços na órbita terrestre, tornando o cosmo inutilizável para o nosso contemporâneo estilo de vida, e impenetrável para pesquisas e explorações extra-atmosféricas.
- Governança e Perspectivas Futuras: Da Regulação à Sustentabilidade Espacial
Preocupadíssima com as consequências de eventual catástrofe, a comunidade internacional – especialmente composta por juristas, astrofísicos, ambientalistas e agências espaciais – há pelo menos duas décadas vêm buscando, isolada ou coletivamente, estabelecer diretrizes mitigadores de detritos espaciais, a exemplo do Space Debris Mitigation Guidelines, do Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC), de 2002; do Space Debris Mitigation Guidelines do COPUOS, de 2010; do Orbital Debris Mitigation Standard Practices, do U.S. Government, de 2019; do Process for Limiting Orbital Debris da NASA, de 2019; e, do Space Debris Mitigation Requirements da ESA, de 2023.
Dentre as diretrizes soft law traçadas até agora pela comunidade internacional para mitigação dos detritos espaciais, destacam-se: a) interromper a liberação intencional de detritos; b) minimizar o potencial de rupturas dos objetos; c) reduzir a probabilidade de colisões acidentais; d) garantir o descarte seguro dos engenhos; f) limitar a trajetória de longo prazo de naves espaciais inoperantes; g) garantir céus escuros e tranquilos para pesquisas astronômicas; e, estender medidas de mitigação para a Lua, Marte e demais corpos celestes.
No entanto, se se tratando de um problema universal, a governança global sobre o tema também obriga sê-lo, motivo pelo qual a solução mais assertada deve partir do COPUOS/ONU, em busca de novel regulamentação do cosmos, mormente a consagração de um Código de Tráfego Espacial (CTE), bem como, a criação de um Tribunal Espacial Internacional (TEI) para solução dos conflitos em última análise, já que a temática possui caráter científico e multidisciplinar.
Do contrário, corremos o risco de retrocedermos à Idade Moderna, onde as inovações da época permitiam apenas comunicações via cartas, pois não havia internet; as navegações seguiam as direções indicadas pelas constelações, vez que não existia o Sistema de Posicionamento Global (GPS); os fenômenos naturais eram imprevisíveis (v.g. furacões), visto que não havia satélites meteorológicos; e, dentre outros, o mapeamento geográfico e o controle do desmatamento restaram mambembes, ao passo que não existia satélite de sensoriamento remoto.
Se permitirmos que assim seja, nosso tempo, num futuro próximo, será ocupado em desenvolver tecnologias para limpar os céus e os tornar navegáveis novamente, a fim de que retomemos nosso estilo de vida contemporâneo. Fato outro, postergaríamos sobremaneira a necessidade inarredável de ascendermos à condição de seres interplanetários, assumindo todas as consequências que disso possa advir, que em seu grau máximo seria a eliminação da vida no planeta Terra por eventos cataclísmicos, como a queda de asteroides e o reaparecimento de eras glaciais, pois é intuitivo que a ordem natural do cosmos é o caos.
- Conclusão
A humanidade enfrenta, no limiar da era interplanetária, um dilema civilizacional: ou promove uma profunda transformação nas suas práticas de gestão de resíduos espaciais ou arrisca inviabilizar o próprio progresso científico, econômico e social que a corrida espacial prometeu. O agravamento do quadro orbital, a inércia normativa internacional e o apetite econômico de agentes privados impõem uma reflexão urgente sobre os rumos do Direito Espacial.
A responsabilização efetiva dos Estados por danos causados por seus objetos espaciais, ainda que fragmentados, depende da modernização dos tratados internacionais e da implementação de critérios técnicos e jurídicos que permitam a rastreabilidade e individualização dos artefatos. Paralelamente, é imprescindível consolidar uma governança global integrada, liderada por órgãos como a ONU e o COPUOS, com autoridade normativa e judiciária sobre as atividades espaciais.
Que a advertência de José Monserrat Filho – “sejamos melhores no espaço do que fomos na Terra” – não ecoe em vão. O futuro da humanidade no cosmos exige responsabilidade, cooperação e a firme convicção de que o espaço é um bem comum da humanidade, cuja exploração deve estar subordinada ao princípio da sustentabilidade.
- Referências Bibliográficas
BBC NEWS BRASIL. O que é a síndrome de Kessler e porque ela preocupa a agência espacial russa. São Paulo, 31 Julho 2019. Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49158200. Acesso em 25 Jan 2025.
BITTENCOURT NETO, Olavo de Oliveira. Direito Espacial Contemporâneo: Responsabilidade Internacional. Curitiba: Juruá, 2011.
CASELLA, Paulo Borba. Direito Internacional dos Espaços. São Paulo, Atlas, 2009.
CNNBRASIL. Destruição de satélite por arma russa acrescenta destroços ao “lixão espacial”. São Paulo, 17 Novembro 2021. Disponível em:
. Acesso em: 23 Jan. 2025.
COELHO DA SILVA, Bernardino. Direito Espacial Internacional: contextualizado e comentado (Portuguese Edition). Edição do Kindle, 2020.
CHENG, Bin. Studies on International Space Law. Oxford: Clarendon Pr, 1998.
DA SILVA, Américo Luís Martins. Direito Aeronáutico e do Espaço Exterior – Volume 1: Edição do Kindle, 2016.
DA SILVA, Américo Luís Martins. Direito Aeronáutico e do Espaço Exterior – Volume 2: Edição do Kindle, 2016.
DA SILVA, Américo Luís Martins. Direito Aeronáutico e do Espaço Exterior – Volume 3: Edição do Kindle, 2016.
DA SILVA, Américo Luís Martins. Direito Aeronáutico e do Espaço Exterior – Volume 4: Edição do Kindle, 2016.
DITTRICH BUHR, Alexandre. Direito Espacial Intergaláctico e Diplomacia Espacial Intergaláctica (Portuguese Edition). Edição do Kindle, 2020.
DITTRICH BUHR, Alexandre. Direito espacial – lições preliminares e avançadas. 1ª ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2012.
GROSNER, Ian; SILVA, Bernardino Coelho. Série Direito e Política Espacial: Volume 1: Direito Espacial Internacional: contextualizado e comentado. São Paulo: Editora Dialética, 2023.
G1 GLOBO.COM. China confirma lançamento do seu primeiro míssil antissatélite. São Paulo, 23 Janeiro 2007. Disponível em: https://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,AA1430750-5602,00- china+confirma+lancamento+do+seu+primeiro+missil +antisatelite.html. Acesso em 25 Jan. 2025.
HUIDOBRO, Marina Stephanie Ramos. Direito Espacial e a Exploração de Recursos Espaciais: Perspectivas Jurídicas. São Paulo: Editora Dialética, 2023.
MONSERRAT FILHO, José. Direito e Política na Espacial: Podemos Ser Mais Justos no Espaço do que na Terra? Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2007.
MONSERRAT FILHO, José. Introdução ao Direito Espacial. Rio de Janeiro: SBDA, 1997.
MONSERRAT FILHO, José. Revista Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial nº 98: Rumo a Marte. Rio de Janeiro: Editora SBDA, 2019.
MONSERRAT FILHO, José. Revista Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial nº
- Rio de Janeiro: Editora SBDA, 2020.
MONSERRAT FILHO, José. Revista Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial nº
- Rio de Janeiro: Editora SBDA, 2021.
OAB/São Paulo, Subseção de Santos. Cartilha da Comissão de Direito Espacial: Noções Introdutórias de Direito Espacial. Editora OAB: Santos, 2022.
THE EUROPEAN SPACE AGENCY. About space debris. [2011?]. Disponível em:
https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/About_space_debris. Acesso em: 25 Jan. 2025.
THE EUROPEAN SPACE AGENCY. Space debris by the numbers. Paris, 20 September 2024. Disponível em:
https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers. Acesso em: 22 Jan. 2025.
THE EUROPEAN SPACE AGENCY. Space debris mitigation: the case for a code of conduct. Paris, 15 April 2005. Disponível em:
. Acesso em: 22 Jan. 2025.
SUPER INTERESSANTE. Destroços de satélite destruído pela Índia podem atingir Estação Espacial. São Paulo, 02 Abril 2019. Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/destrocos-de-satelite-destruido-pela-india-podem- atingir-estacao-espacial/. Acesso em: 25 Jan 2025.
Nazareth, Alexandre da Silva1 – é mestrando em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), sediada em São Leopoldo-RS; É aluno especial nas disciplinas de Direito Espacial do Mestrado de Direito Internacional da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS). Possui 03 (três) Especializações em Direito pela Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso. É Membro da International Academy of Space Studies (IASS), com sede em São José dos Campos-SP. É Membro do Grupo de Pesquisa de Direito e Política Espacial da UNISANTOS. É Delegado de Polícia no Estado de Mato Grosso. Foi Policial Rodoviário Federal (PRF) em MT. E foi Policial Militar (PM) em MT.